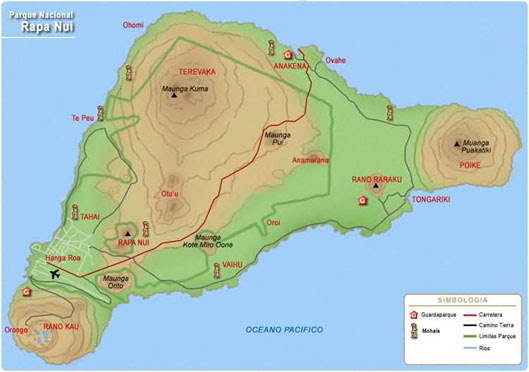
Páscoa
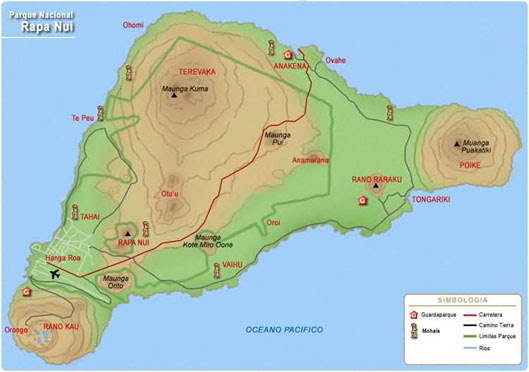

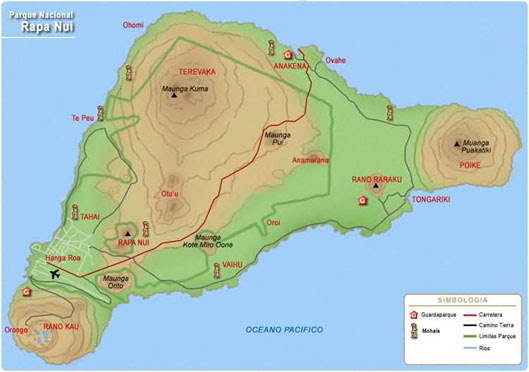
Éric Fougère começou as suas pesquisas em insularidade por uma tese intitulada “As viagens e a ancoragem, espaço insular na idade clássica” – Les Voyages et l’ancrage, espace insulaire à l’âgeclassique, no original – (L’Harmattan, 1995) antes de sustentar uma tese de Habilitação para dirigir pesquisas donde saíram três obras: “A Pena em literatura e a prisão na sua história, solidão e servidão” – La Peine en littérature et la prisondans son histoire, solitude et servitude, no original – (L’Harmattan, 2001), “O Grande Livro da colónia penal na Guiana e Nova Caledónia” – Le Grand Livre du bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie (Orphie, 2002), “Ilha-prisão, colónia penal e deportação” – Île-prison, bagne et déportation, no original – L’Harmattan, 2002). O seu trabalho continuou em duas direções: literária (entre outros “Ilhas e balizas, escalas em literatura insular” – Île et balises, escales en littérature insulaire, no original – 2004; “A literatura ao sabor do mundo, espaço e realidade” – La littérature au gré du monde, espace et réalité, no original – (2011…), histórico, (“Indesejados na Désirade, história da deportação de arruaceiros” – Des indésirables à la Désirade, histoire de déportation de mauvais sujets, no original – 2008; “A prisão colonial em Guadalupe” – La Prison coloniale en Guadeloupe, no original, 2010; “As ilhas doentes” – Les îles malades, no original – 2018…). Dirige uma coleção “Ilhas”, Des îles, no original, nas edições Pétra.
A vulnerabilidade e a resiliência são conceitos nebulosos e contestados. Os Estudos Insulares têm contribuído bastante para os compreender, ordenar as diferenças e propor caminhos a seguir. Dois pontos-chave são: que (i) a vulnerabilidade e a resiliência não são opostas, e que (ii) são processos, não estados.
A vulnerabilidade e a resiliência são construções sociais. Muitas línguas não têm traduções diretas para as palavras e muitas culturas não têm os conceitos, especialmente tal como definidos e debatidos no meio académico. Como tal, ambos os conceitos devem ser explicados em pormenor para serem comunicados e aplicados. Os estudos insulares contribuem significativamente ao observar que ambos existem simultaneamente, articulando-se um com o outro, e que ambos devem emergir de pessoas e sociedades que interagem entre si e com os seus ambientes. São também muito mais do que interação, uma vez que a natureza e a cultura não podem ser separadas, como é o caso da sociedade e do ambiente. Assim, a vulnerabilidade e a resiliência são simplesmente parte do ser, e não entidades ou atributos distintos.
Como tal, exprimem e abraçam razões para acabar com situações e circunstâncias em que lidar com oportunidades e adversidades é mais ou menos possível. São processos a longo prazo que descrevem os motivos da existência de estados observados, e não meras descrições desses estados. Estas explicações devem abranger a sociedade e o ambiente, entrelaçando-se em vez de se desligarem uns dos outros, e devem envolver histórias e futuros potenciais, e não meros instantâneos no espaço e no tempo.
Para as ilhas, os fenómenos e mudanças ambientais são frequentemente vistos como expondo ou criando vulnerabilidades e resiliências. No entanto, um terramoto ou as alterações climáticas não dizem às pessoas e às sociedades como reagir. Em vez disso, aqueles que têm poder, oportunidades e recursos tomam decisões sobre aspetos de governação a longo prazo, incluindo igualdade, equidade, apoio coletivo e serviços sociais.
Sabemos como construir infraestruturas para resistir a terramotos. Esta tarefa não pode acontecer de um dia para o outro, mas requer códigos de construção, regulamentos de planeamento, profissões qualificadas e escolhas para ser bem-sucedida. Tomando os exemplos das ilhas, os líderes dentro e fora do Haiti que controlaram o país ao longo de décadas, decidiram não construir para os terramotos, levando a catástrofes devastadoras em 2010 e 2021. Entretanto, o Japão adotou uma abordagem diferente, o que significa que, apesar dos terramotos de 2003, 2011 (que tiveram um terrível número de tsunamis) e 2022, que foram muito mais fortes do que os do Haiti, registaram-se poucos desmoronamentos.
Este processo a longo prazo de parar ou permitir danos relacionados com sismos é uma escolha da sociedade, o que significa que as catástrofes emergem da escolha de processos de vulnerabilidade e resiliência. As catástrofes não provêm de terramotos ou outros fenómenos ambientais, pelo que não são da natureza e “catástrofe natural” é um termo errado.
Uma vez que as alterações climáticas afetam o clima e o clima não causa catástrofes, as alterações climáticas não afetam frequentemente as catástrofes. Por exemplo, as ilhas têm sofrido ciclones tropicais durante milénios, com a época das tempestades a acontecer anualmente. Há muito conhecimento para evitar danos e muito tempo tem havido para implementar este conhecimento, no entanto, ainda se assiste frequentemente a catástrofes como o Furacão Maria nas Caraíbas em 2017 e o Ciclone Harold no Pacífico em 2020. Quando as pessoas e as infraestruturas não estão preparadas para uma tempestade, então ocorrem desastres. As alterações climáticas aumentam a intensidade e diminuem a frequência dos ciclones tropicais, mas não têm impacto nas escolhas humanas a longo prazo para se prepararem (criando resiliência) ou não (criando vulnerabilidade). A escolha de não o fazer é uma crise de escolha humana, não uma “crise climática” ou “emergência climática” – por isso estas expressões também estão mal construídas.
Os estudos insulares há muito que ensinam ao mantra ilhéu que as mudanças ambientais e sociais são sempre de esperar em todas as escalas de tempo e espaço. A vulnerabilidade torna-se o processo social de esperar que a vida seja constante e de não estar preparado para lidar com ambientes diferentes ou alterantes, em escalas de tempo curtas (por exemplo, terramotos) ou longas (por exemplo, alterações climáticas). As vulnerabilidades surgem mais frequentemente porque as pessoas não têm opções, poder ou recursos para alterar a sua situação devido a fatores como a pobreza, a opressão e a marginalização. Outros tomam a decisão de que a maioria seja vulnerável. A resiliência torna-se o processo de contínuo ajustamento e flexibilidade, para aproveitar ao máximo o que o ambiente e a sociedade em constante mudança podem oferecer para apoiar a vida e a subsistência de todos. Para o fazer, são necessárias opções, poder e recursos.
No entanto, os estudos insulares demonstram que os limites à resiliência são, apesar de tudo, evidentes. A história humana mostra uma longa lista de comunidades insulares a serem dizimadas e ilhas inteiras a serem forçadas ao abandono. A Ilha de Manam, na Papua Nova Guiné, foi evacuada algumas vezes devido a erupções vulcânicas. Muitas comunidades insulares do Pacífico desapareceram no século XIV devido a uma importante alteração climática e do nível do mar na região, enquanto os testes nucleares durante a Guerra Fria deixaram muitos atóis inabitáveis. O povo indígena Beothuk da Terra Nova morreu devido a um colonialismo violento e assolado por doenças. Nas décadas de 1960 e 1970, os ilhéus de Chagos foram forçados a abandonar o seu arquipélago do Oceano Índico para darem lugar a uma base militar. Todas estas situações testam a resiliência – ou perdem-na por completo.
Os estudos das ilhas demonstram assim a construção da vulnerabilidade e da resiliência como conceitos, como processos e como realidades, ilustrando o cuidado na interpretação e aplicação necessária para ambos, a fim de captar um quadro abrangente. A vulnerabilidade e a resiliência não se contradizem nem se opõem, antes se sobrepõem e transformam de acordo com o contexto e os detalhes. A vulnerabilidade e a resiliência das ilhas baseiam-se muito nas perspetivas daqueles que observam e são afetados.
Instituto para a Redução de Riscos e Desastres e Instituto para a Saúde Global, University College Londres, Reino Unido e University of Agder, Noruega.
Ilan Kelman http://www.ilankelman.org e Twitter/Instagram @ILANKELMAN é Professor de Catástrofes e Saúde no University College London, Inglaterra e Professor II na Universidade de Agder, Kristiansand, Noruega. A sua àrea geral de investigação é a de relacionar as catástrofes e a saúde, incluindo a integração das alterações climáticas na investigação sobre catástrofes e na investigação sobre saúde. Cobre três áreas principais: (i) diplomacia de catástrofes e diplomacia da saúde http://www.disasterdiplomacy.org; (ii) sustentabilidade das ilhas envolvendo comunidades seguras e saudáveis em locais isolados http://www.islandvulnerability.org; e (iii) educação para os riscos, saúde e catástrofes http://www.riskred.org
ilan_kelman@hotmail.com
A mesma limitação espacial das ilhas pode criar uma ideia de autocontenção que se reflete para o turista (na sua perceção de visitar um “mundo completo”) mas também pode ligar mais claramente os seus habitantes ao local vivido (Grydehøj; Nadarajah ,; Markussen 2018). As ilhas assombradas pelo turismo compartilham a consciência dos seus limites tanto em termos culturais – a sua dissolução num mercado global de fluxos de férias– como também em termos de sustentabilidade do seu território. Stephen A. Royle ( 2009) identifica essa consciência na limitação essencial das ilhas cujas referências culturais podem ser traduzidas ou adaptadas para acolher o público recetor, criando mesmo um conceito particular para a identidade dos visitantes – por exemplo, no estudo de Hazel Andrews (2011) para o Ingleses que visitam Magaluf, em Maiorca. A imagem de vila a preservar que estes locais de residência defendem, será, no entanto, também sempre um produto indireto do turismo, um contraponto gerador de autênticas imagens pré-turísticas que reutilizam o mito do isolamento insular para defender uma identidade local ameaçada pelo turismo globalizante. No entanto, como vimos, muitas vezes a história das ilhas é de contacto constante. Segundo Eduardo Brito Henriques (2009: 43), o que partilham não é o isolamento mas sim a hibridação a que conduzem os seus portos e a sua vocação marítima.
O debate sobre a afetação cultural do turismo em ambientes insulares partilha as suas posições com aquele que se desenrola no quadro mais alargado da antropologia cultural, e no qual, grosso modo, podemos identificar duas posições: a de quem vê no turismo, uma forma de aculturação do local e a daqueles que entendem – a partir de diferentes posições – que o turismo pode funcionar como um motor de preservação cultural ou de criação de novas formas culturais. Na primeira posição, encontraríamos sobretudo análises sobre como a mercantilização cultural em ambientes insulares provoca a modificação da cultura local que, como Michel Picard (1996) já percebeu a partir dos seus estudos em Bali, muda quando se torna uma representação performativa para os turistas. Ao mesmo tempo, Keith G. Brown e Jenny Cave (2010) observam que necessariamente convertem a relação entre turista e morador numa relação entre consumidor e produtor, que pode adaptar o seu produto às expectativas do primeiro. O acesso à cultura local é, portanto, reservado a poucos turistas exigentes e muitas vezes aqueles com alto poder aquisitivo que, por exemplo, quando chegam a Mallorca visitam o túmulo de Robert Graves no pitoresco – e caro – município de Deyà e não saem pelas ruas decoradas com bandeiras alemãs ou britânicas de Magaluf ou El Arenal.
Estudando o turismo cultural nas Ilhas Trobriand, Michelle MacCarthy reflete sobre os usos do conceito de autenticidade na valorização dos produtos culturais consumidos pelos turistas, uma autenticidade que a sua própria presença poderia corromper. No entanto, numa posição construtivista do elemento cultural –conclui-, a autenticidade como tal que só existe como projeção do próprio turista, é, em si, um produto turístico vendido por culturas em constante processo de evolução. Sob esse ponto de vista, Antoni Vives e Francesc Vicens (2021) analisam o vínculo entre cultura turística e identidade local, sendo que – assim o entendem- não é muito útil compreender o turismo como um processo de aculturação de identidades pré-turísticas puras e imóveis. O turismo também importaria formas complexas e criativas de contacto cultural, que emergem – como Michel Picard também concluiu de Bali – através da criação de novas formas de produção cultural moderna.
Também na sua dimensão ambiental, o turismo promove –desde as primeiras tentativas de inventar a natureza como lugar de contemplação dos visitantes (Martínez-Tejero e Picornell 2022)– uma patrimonialização do elemento natural que tem um duplo efeito especialmente relevante nas insularidades turísticas. Por um lado, transforma a natureza em paisagem, anulando, por exemplo, a relevância produtiva do rural ou a necessidade de respeitar as mudanças no meio ambiente e nos seus recursos. A pulsão de visita ao ambiente paisagístico patrimonializado acaba, num perverso círculo paradoxal, por rapinar a natureza que celebra, motivando a exploração urbana, os meios de comunicação, a superocupação do território. Pelo contrário, gera uma tomada de consciência dos próprios limites do territorial, mas em que estes não se referem apenas à tomada de consciência do litoral, mas também, a uma avaliação da própria materialidade da terra que deriva, ao mesmo tempo, em dois registos interligados: a geração de um discurso ecológico onde a identidade insular está amplamente ligada ao espaço natural e, do mesmo modo, numa certa essencialização desta natureza como lugar de acolhimento das raízes das culturas residentes que pode conduzir a uma quase nostálgica idealização do pré-turismo como autêntico, ignorando, por vezes, as histórias de trânsito que, como vimos, muitas vezes condicionam as histórias insulares e as suas determinações literárias mais interessantes em termos de inovação metodológica. Considerando o terreno, as opressões do mercado de trabalho, a constante reinvenção do local na sua projeção e/ou resistência turística, o imaginário global do insular parece ainda mais uma construção literária, real na sua capacidade de atrair visitantes e configurar olhares, bem como avaliar como esses olhares são reajustados ou (cor)respondidos a partir da cultura local.
Referências:
Andrews, Hazel (2011). “Porkin’ Pig goes to Magaluf”. Journal of Material Culture, 16: 2. 151-170.
Grydehøj, Adam; Nadarajah, Yaso; Markussen, Ulunnguaq (2018). “Islands of indigeneity: Cultural Disctinction, Indigenous Territory and Island Spaciality”. Area, 52(1): 14-22.
Martínez-Tejero, Cristina; Picornell, Mercè (2022). “From Pleasant Difference to Ecological Concern: Cultural Imaginaries of Tourism in Contemporary Spain”. Luis I. Prádanos, A Companion to Spanish Environmental Cultural Studies. Londres: Tamesis Books. 195-205.
Picard, Michel (1996). Bali: Cultural tourism and touristic culture. Singapur: Archipelago.
Royle, Stephen A. (2009). “Tourism Changes on a Mediterranean island: Experiences from Mallorca”, Island Studies Journal, 4: 2. 225-240.
Vives Riera, Antoni; Vicens Vida, Francesc (2021). Cultura turística i identitats múltiples a les Illes Balears. Passat i present. Barcelona: Afers.
A limitação territorial das ilhas faculta maior consciência dos limites dos seus recursos face à sobreexploração turística. Na bibliografia crítica, no entanto, identificam-se duas tendências quase opostas: a dos que detetam os riscos de sobreexploração turística das ilhas, e a dos que identificam no turismo uma possibilidade de desenvolvimento que a insularidade pode travar para outras indústrias turísticas. O conceito de “resiliência” é frequentemente discutido como uma virtude específica que permitiria suportar a pegada social e ecológica do turismo mais do que outros ambientes e diversificar o conhecimento necessário para se sustentar com seus próprios recursos (McLeod; Dodds, Butler 2021). A necessidade de “apoiar” esta pegada, mesmo quando ameaça o equilíbrio social, ecológico e cultural do ambiente, está relacionada com a possibilidade de “desenvolvimento” de ambientes que não têm conseguido, pela sua condição periférica ou remota, tornar-se industrializados. Segundo Dimitrios Buhalis (1999), o turismo reduziria a capacidade de prosperidade – prosperity gap – entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Este decréscimo poderá ter como contraponto, admite ainda, a desigualdade no acesso ao capital gerado pelo turismo quando a maioria dos residentes participa apenas na riqueza turística proveniente de ocupações laborais precárias, próprias ou, em geral, condicionadas pelas multinacionais que influenciam a procura turística, o acesso à ilha e até – se o poder político o permitir – o seu ordenamento e acessibilidades. Visões um pouco mais matizadas e críticas são as de quem considera a fragilidade de muitos ecossistemas insulares submetidos a um grande desgaste de recursos – por exemplo, a água – devido à chegada massiva de visitantes. Ao considerar o impacto das mudanças climáticas nos ambientes turísticos insulares, a partir do caso particular de Malta e Mallorca (Calvià), Rachel Dodds e Ilan Kelman (2018) propõem diferentes planos de ação necessários para proteger os ambientes para que sejam seguros para o turismo, mas sem questionar como o turismo, de facto, também contribui para as mudanças climáticas e a degradação natural de muitos dos ambientes em que ocorre. A sustentabilidade, assim, é deste modo definida não apenas como uma necessidade da prática turística em relação ao território em que se insere, mas como uma estratégia que permite a adaptação às mudanças provocadas, entre outros fatores, pela própria prática turística.
Referências:
Buhalis, Dimitrios (1999). “Tourism in the Greek Islands: The issues of peripherality, competitiveness and development”, International Journal of Tourism Research, 1(5), 341-359.
Dodds, Rachel, i Kelman, Ilan (2008). “How climate change is considered in sustainable tourism policies: A case of the Mediterraneal Islands of Malta and Mallorca”, Tourism Review International, 12, 57-70.
NcLeod, Michelle, Dodds, Rachel, and Butler, Richard (2021). “Introduction to special issue on island tourism resilience”, Tourism Geographies, 23: 3, 361-370.
Tanto na ausência ou na representação estereotipada do morador, quanto na identificação da ilha com seu ideal, o olhar estrangeiro e o controlo sobre a representação têm sua marca. O elemento insular, escrevem Adam Grydehøj, Yaso Nadarajah e Ulunnguaq Markussen (2020), desempenhou um papel na construção das esferas de poder coloniais e neocoloniais. Além disso, aqui não se trata de uma localização puramente imaginária – digamos, por exemplo, a ilha de Caliban, seja em William Shakespeare ou Aimé Césaire – mas de uma dependência particular que, segundo Yolanda Martínez (2018), continua a estar operacional. Poder-se-ia mesmo identificar uma tendência histórica na utilização de alguns territórios ditos “ultramarinos” como laboratório ou modelo na assimilação de outras regiões insulares ou, diríamos ainda, de outros continentes. Conceitos utilizados para referir ilhas distantes das suas metrópoles como “territórios ultramarinos” ou “regiões ultraperiféricas”, utilizados no quadro europeu, já denotam a complexa ligação entre insularidade e colonialismo. Alguns investigadores têm projetado esta ligação à constituição do elemento insular como destino turístico, sobretudo quando esta insularidade está ligada a territórios geoestrateticamente mais “a sul” dos países europeus com capitais continentais que foram as “suas” metrópoles. Helen Kapstein (2017) identifica nesta capacidade de gerar “outros lugares” uma origem particular, ligada ao imaginário constitutivo das nações europeias.
Carla Guerrón (2011) estudou o uso turístico do conceito de “ilha paradisíaca” derivado da projeção de conceções como a “descoberta” das ilhas, mesmo quando estas são habitadas e as representações dos colonizadores sobrevivem nas representações atuais. Assim, por exemplo, apesar das ilhas das Caraíbas estarem entre as mais heterogéneas social e etnicamente na cultura popular, são reproduzidas como versões simplificadas e uniformes, marcadas pelo exotismo e exuberância. Na ilha, o tempo parece parado. As ilhas, escreve Kapstein, funcionam como um microcosmo particular no qual a nação pode projetar os seus estereótipos. Nesse sentido, Anthony Soares escreve que “Hoje, num contexto supostamente pós-colonial, as ilhas oferecem, talvez, as imagens mais potentes, angustiantes e anómalas do projeto neocolonial, e podem, portanto, ser vistas como exemplos das complexas vidas posteriores ao império” (2017: xvi ). No mundo do capitalismo global, a simplicidade da identificação entre insularidade e colónia é desafiada pela capacidade das próprias ilhas gerarem dinâmicas hierárquicas de poder (emblematicamente, nas sedes de grandes grupos hoteleiros, sediados nas Ilhas Baleares e alargando as suas dinâmicas nas Caraíbas). Não deixa de ser verdade, porém, que um certo imaginário colonial sobrevive na representação das ilhas, ou seja, na sua representação audiovisual, na identificação do residente como criado do visitante, nas hierarquias nacionais que se impõem na própria dinâmica da hospitalidade turística. Tina Jamieson, por exemplo, estudou-o na permanência da ideia de exotismo que se mantém no uso de certas ilhas do Pacífico como locais para casamentos, para turistas que costumam vir das antigas metrópoles (Hampton; Jeyacheya 2014). Louis Turner e John Ash (1975) já escreviam que o turismo, desde os seus primórdios no século XIX, se tornou um agente de consolidação do “império”. Caberia avaliar como o capitalismo tardio varia essa perceção “imperialista” em formas de dominação geoestratégica ou de exploração dos recursos naturais, que já não respondem à dialética centro-metrópole x periferia. Esta ligação entre a ideologia colonial e a imagem mitificada da ilha justificaria, para alguns, uma certa especificidade no desenvolvimento do turismo nos enclaves insulares. A recorrência da segmentação insular na promoção turística, que coexiste, claro está, com outras segmentações igualmente determinadas por imaginários mais ou menos coloniais –o deserto, o Oriente, o indígena, a paisagem nórdica selvagem, as cidades ‘históricas’– parece acompanhar esta ideia que, no entanto, tem sido questionada.
Referências:
Grydehøj, Adam; Nadarajah, Yaso; Markussen, Ulunnguaq (2018). “Islands of indigeneity: Cultural Disctinction, Indigenous Territory and Island Spaciality”. Area, 52(1): 14-22.
Guerrón Montero, Carla (2011). “On Tourism and the Constructions of ‘Paradise islands’ in Central America and the Caribbean”. Bulletin of Latin American Research, 30: 1. 21-34.
Kapstein, Helen (2017). Postcolonial Nations, Islands, and Tourism. Londres i Nova York: Rowman i Littlefield International.
Martínez, Yolanda (2018). “Colonialismo y decolonialidad archipelágica en el Caribe”. Tabula Rasa: revista de humanidades, 29. 37-64. Turner, Louis; Ash, John (1975). The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery. Nova York: St. Martin’s Press.